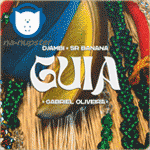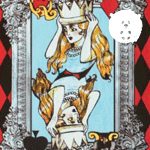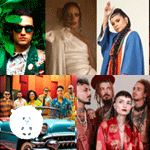Na primeira edição do NA-NU Entrevista nosso colaborador André Nigro entrevista Vilma Ribeiro. Com seu trabalho como cantora, Vilma possui um extenso currículo. Foi parte da banda Namastê, um dos principais nomes do reggae nacional, e da incrível banda brazuca-experimental, Risoflora. E carreira solo, Vilma lançou seu primeiro EP em 2011. Em 2012 produziu o show Camarim: Uma Costura Musical com a artista visual Lisa Simpson que misturava música, costura, artes visuais e performance. Recentemente lançou o álbum Vilma Ribeiro, com cações próprias e de artistas como Leo Fressato e Paulo Teixeira.

Como começou essa história com a música. Como você começou?
Vilma Ribeiro: Eu acho que a música sempre teve presente na minha vida mas de diferentes formas. Minha família é muito musical. Meu pai tocava bateria em casa, estudando, ouvindo disco (LP) de jazz. Minha mãe cantava muito também, cantava em coral. Eu comecei a atuar na cena de Curitiba no final de 99… 2000, que aí realmente eu comecei e entrei numa banda. Mas desde o ensino médio, desde a minha infância, ainda no colégio, copiando letra de música no caderno, ouvindo, brincando de música. Desde muito tempo que a música tá na minha vida. E depois já cantando na banda de reggae acabei voltando pra uma faculdade de música, que foi a FAP (Faculdade de Artes do Paraná). E lá na FAP acho que o que foi mais legal foi ter conhecido pessoas com quem eu pude compartilhar outras idéias musicais. Além de estudar e tudo mais, mas assim… O grupo que se formou ali que foi o Risoflora. Então, ali na Risoflora a gente tinha o encontro de pessoas que se gostavam muito, e acho que aí já era um convite pra compor. É uma troca a composição. É uma entrega, porque é algo muito particular e você tem vergonha. Risoflora eu lembro que era assim, pega o violão, pega o pandeiro, pega a flauta, vamo lá, vamo… sabe?! Essa coisa assim pulsante da banda, ela me instigou, me levou à pensar na composição. Em ter que aquilo que é teu, e se comunicar do seu jeito. Acho que foi mais forte ali na Risoflora.
Já vamo voltar pra Risoflora…
Mas, de onde veio o Reggae? Você falou que era da casa de Jazz, e tudo que eu falo com você é jazz e blues, mas e o reggae?
Vilma Ribeiro: Pensando na nossa cultura, e em tudo que influencia a gente. No que a gente recebe, e depois no que a gente devolve pro mundo. Acho que é um ciclo. Acho que teve muito na minha infância e acabou voltando num outro momento, esses exemplos de música que eu te falei. Mas o reggae foi numa fase assim já na minha adolescência, que até na cidade de Curitiba tinha um circuito muito forte. Eu acho que hoje existem nichos de gêneros e tal. Mas eu acho que no começo, ali nos anos 90, tinha um circuito muito forte de reggae. A gente ouvia muito Bob Marley. E os shows passavam por Curitiba. Eu lembro do primeiro do show do The Wailers que eu pude ir. Então já tinha uma coisa assim da gente escrever as letras no caderno, como eu falei. De pensar “ah, mas o que que significa?”. E a mensagem, são letras fortes. Além da batida, da música toda, da sonoridade. Daquela coisa forte. Começou ali na minha adolescência. E aí o meu irmão (Beto Ribeiro) já tocava, e eu fui numa passagem de som do Namastê começando. Então por exemplo, era o primeiro show. E aí eu fui assistir, a federal tava em greve…
Pra variar…
Vilma Ribeiro: É, e eu já fazia engenharia química, mas que já não era muito a minha onda. E aí eu fui nessa passagem de som da banda e eu sabia todos os backings. E aí eles tavam tocando (era Rebel Music do Bob Marley, que eu me lembro). Aí eu já fui ali e meu irmão falou “Fica”. E isso começou em Ponta Grossa, eu tava viajando com uma amiga, eu falei “vamo lá. Tem o meu irmão, eles tão tocando”. Minha irmã (Ana Maria Ribeiro), que também era da banda, tinha feito publicidade, mas trabalhou na área de comunicação, mas mais voltada pra rádio. Então sempre indo pra música, com profissões diferentes, mas relacionadas. E aí, daquela primeira passagem de som, eu nunca mais parei de cantar. Foi assim uma coisa meio espontânea e do momento, e também dessa coisa que eu já gostava do reggae de adolescência, e eu tava lá no comecinho da faculdade. Então foram coisas assim que não teve muito planejamento na verdade. E aí a gente comprou uma Kombi. E aí começou a tocar…
Orra, tudo que uma banda precisa na vida: Comprar uma Kombi e fechou!
Vilma Ribeiro: É, só não pode ser muito velha. Se não você não vai muito longe.
No máximo até Ponta Grossa, fecha show ali…
Vilma Ribeiro: Nas praias… (Risos)
E como que foi viver essa explosão do reggae? Porque eu lembro que o Namastê tava em tudo. Como é que foi?
Vilma Ribeiro: Eu acho que é toda uma cena musical que existe, mas também é uma coisa de comportamento. E que quando uma pessoa ouve uma música, ela as vezes até usa uma roupa, ou ela faz algumas coisa, ou ela faz parte de uma cultura mesmo. É todo um comportamento mesmo. E eu lembro que tinha a galera do surf, então tinham marcas patrocinadoras, tiveram festas, que movimentavam isso. Não existe um jeito de a música sobreviver só com os compositores, com os músicos. A música propriamente dita, ela depende muito de uma cena, de produção, de público, de identidade e eu acho que isso tudo era muito forte, tava concentrado naquele momento. E a gente no Namastê éramos uma banda que tinha duas meninas, duas vocalistas. Era uma coisa difícil na cena, a gente sabe que até hoje. Hoje tem muito mais mulheres tocando, cantando. Mas era uma coisa diferente no reggae. Ter as meninas ali. Eram eu e minha irmã cantando. Então eu acho que tinham alguns diferenciais na banda. Nesse circuito de reggae, tinha muito show forte aqui em Curitiba. A gente ia muito na pedreira. E tinha a abertura (de shows). Pô, a gente abriu pro Ziggy Marley, entende? Pô, filho do Bob Marley. Então a gente fazia muito esse circuito de abertura de shows bons. Isso faz com que o público que vai lá ver a banda grande ver a banda local. Então eram várias coisas que faziam esse movimento ter força, vibrar mesmo. Acho que são ciclos também.
Aí você entrou na FAP e já formou o Risoflora…
Vilma Ribeiro: Sim, eu lembro que nessa época da FAP, eu fazia muita coisa ao mesmo tempo, e o Namastê tava ali também, numa época que a gente gravou disco e tinha esse circuito forte. Então eu lembro de todas as semanas ter dois, três shows as vezes. Ir pra cidades do interior, muito pra litoral. A gente foi pra Argentina, a gente foi super bem recebidos. Fomos duas vezes. Existia uma força desse projeto, que eu já tinha até então. Mas a Risoflora mexia com outro lado. E era uma banda que tinha mais meninas também. Tinha a Maytê Corrêa, a Thais Morell, a Bruna (Buschle), o André Nigro (risos). E era uma banda muito legal porque ela era um pouco mais, digamos, livre. O Namastê era aquela coisa do reggae mesmo. Era uma banda de reggae. Então as composições e todas as coisas giravam em torno desse estilo. E a Risoflora a gente tava ali explorando, até por estar estudando. então tinha o samba, tinha o rock’n’roll, tinha o começo do Psicodália. Então ali era uma outra cena paralela ali na cidade, com outros artistas. Como gente como o Ivan (Halfon) também. Outras bandas que a gente se comunicava. Então acho que acho que abriu pra outras possibilidades.E eu acho que isso era meio que a identidade da coisa. Na época eu cantava menos. Tocava flauta transversal, que era uma das minhas paixões, mas que na Namastê eu não fazia muito. E na Risoflora era até mais a flauta mesmo. A coisa da flauta era uma delícia. Era uma viagem. Dá saudades. Tanto é que você pensa nas pessoas que faziam parte da banda, depois que a banda deixou de existir, criaram-se outros tantos projetos, dessas pessoas, super fortes. Eram pessoas que tinham um sentido e tinham uma força muito legal.
Todo mundo ali, né? A gente não falou do Gusta que entrou depois.
Vilma Ribeiro: Sim, o Gustavo Proença, que tem um trabalho autoral super legal.
Que tá indicado ao Grammy aí, que rolou.
Vilma Ribeiro: Nossa, verdade.
E aí você tava com esse negócio do Reggae estourando e aí você resolveu sair.
Vilma Ribeiro: É, eu fiquei dez anos no Namastê. Desde aquela passagem de som que eu nunca mais saí. Mas ali no Namastê eu acho que eu “estava saindo”, sabe? Acho que as coisas foram acontecendo. Outras possibilidades. E aí eu comecei a tocar com uma amiga minha que é a Kamile (Levek), ela mora na Bahia, é uma guitarrista daqui de Curitiba, compositora também. É uma graça, uma querida. E aí ela começou a me puxar pra essas outras vontades que eu tinha, de poder compor fora do reggae. Eram outras possibilidades musicais. Acho que muitas pessoas tem isso. Muitas pessoas tem bandas um tempo e de repente conseguem fazer paralelo, ou não. E ali no Namastê rolaram uns projetos paralelos, mas chegou um ponto que eu achei que realmente eu tinha que fazer algumas escolhas. Deu medo. Nossa, eu acho que eu demorei um ano pra sair da banda. Eu fui saindo. Tinha um circuito de shows, que as vezes você viaja, você leva horas, que você come junto, e conversa, e brinca, e briga, é muita convivência. Tem o show ali, de uma hora, duas horas. Mas que envolve uma troca e uma responsabilidade. É meio clichê, mas é um casamento, porque você tem que entender que existem aqueles momentos em que as pessoas não estão na mesma sintonia. Mas você respeita porque você quer estar ali e tem coisas em comum que são bacanas. Foi difícil assumir, mas eu achei que eu precisava fazer isso. Que eu tava com outras vontades musicais. Por mais que eu continue gostando do reggae, que eu continue gostando da banda, eu acho que foi mais saudável. Eu acho que eu fui até um ponto que foi legal pra mim e pros outros. E saí.
E daí nesse teu primeiro trabalho que você lançou, carreira solo, você meio que já tinha? Porque aí ele já é bem mais Jazz.
Vilma Ribeiro: Enquanto eu ainda tava na Namastê eu comecei um projeto com a Kamile e com o Alex (Manzoni) que era um trio no qual eu tocava violão. Com algumas musicas que eu gostava de ouvir, mas que eu nunca tive oportunidade de fazer. Um pouquinho Risoflóra, até algumas coisas do blues tavam ali. Aí comecei com o repertório das cantoras do jazz. Umas coisas mais antigas, umas coisas mais contemporâneas. A própria Norah Jones. Tem algumas músicas que são desafios pra voz. Um outro jeito de cantar, diferente do reggae, diferente da Risoflora. E aí que eu acho que veio essa coisa da escuta da infância. Desde Etta James e sei lá. Eu fiquei com muita vontade de cantar esse tipo de repertório. E aí comecei a tocar em barzinhos que comportassem um trio com esse tipo de repertório. Fui encontrando outros parceiros. Até a Bruna voltou a tocar comigo. O Vinicios Nizi, aí o (Gustavo) Slomp, que é baixista, com essa ideia do baixo acústico. Com essa sonoridade que puxava mais pra esse tipo de música. Mas ao mesmo tempo sempre com vontade de continuar cantando em português.
Talvez faça sentido, né? Talvez seja algo natural. Porque o reggae tem esse esquema que é uma catarse coletiva, né? Aquele negócio do groove…
Vilma Ribeiro: É, é um mantra. Não que não tenha dinâmica, é aquela vibração, o grave do baixo, aquele jeito de dançar, e das letras, e os backings, todo o jeito como acontece o reggae. Os shows, a coisa pra dançar. É diferente…
Talvez faça sentido então uma hora você querer fazer uma coisa mais acústica, mais intimista.
Vilma Ribeiro: E foi bem bacana, porque você descobre outro jeito de cantar, outra voz. Coisas mais agudas, eu cantava mais grave. Foi bem legal. Esse outro repertório trouxe outro jeito de se comunicar. Mas eu não abandono o reggae, as outras bandas, enfim, a história toda.
E esse negócio de tar cantando com a tua irmã, depois com a Thais e a Maytê, e de repente pegar o violão e cantar sozinha? Foi difícil?
Vilma Ribeiro: Nossa, tem shows, que a gente fez vídeos, com a minha mão temendo. E só você fazendo a base. Isso ao mesmo tempo te dá uma liberdade e uma responsabilidade. Mas foi muito legal. Eu particularmente ando tentando fazer coisas em que eu possa cantar, só. Mas ao mesmo tempo tem outros projetos que eu ainda toco. É um cliclo… eu não sossego (risos).
E essa história de misturar a música com costura, e dança? Você tem um show, que fez no Teatro Paiol com a Lisa Simpson costurando. E a Marina Prado fazendo performance.
Vilma Ribeiro: A Lisa é uma artista visual. Ela sempre teve esse negócio de trabalhar com a roupa, mas com um re-significado. Isso também me ajudou muito, esse negócio da identidade. De separar os projetos e saber as vezes que você é uma outra persona. E a roupa, o óculos, isso comunica antes mesmo de você cantar. Já é a tua identidade visual. E foi nessa troca das bandas, das coisas que eu tava experimentando, que eu conheci a Lisa. E desde então, sempre fez meu figurino com customização. Que é o trabalho de pegar uma roupa e re-significar: o que é uma saia, vira um vestido, tira o braço e coloca o braço de outro casaco. Com coisas antigas, roupas de brexó. Então eu sempre falava “Lisa, eu gosto de vermelho e preto” então quando ela achava, ela já pensava: “puts, vou pegar porque pra Vilma pode ser algum figurino “. E ela começou a fazer isso com os shows que eu comecei a fazer sozinha, com a Kamile, saindo ali da banda. Foi rolando uma identidade visual. e a Lisa agora tá lá na Europa, fazendo esse trabalho visual performático que tem um pé na música, que são trabalhos dela com a máquina de costura, de colocar os timbres na máquina. Então nesse meio tempo dela fazer o figurino e desenvolver esse projeto, a gente foi entrando nessa idéia e acabou virando esse show: Camarim – Uma Costura Musical. No qual a gente microfonou a máquina de costura dela, e aí ela ia costurando o meu figurino… não que eu ficasse sem roupa… (risos) Ela ia adaptando um “tecidão”, que virava um vestido. E a gente chamou as “Vilmetes” que eram amigas, que tavam com o figurino que ia se transformando durante as músicas. A Lisa fez essa performance, aí teve a Marina (Prado) que fez (performance no) tecido lá no teatro Paiol. E aí a ideia era essa, da Lisa que tava ali transformando a parte visual, mas também como mais um instrumento. Um elemento que era microfonado e que fazia parte do show. A gente fez outras coisas também. Fizemos umas coisas nas ruínas. Sempre tinha desfile das coisas dela, eu sempre tava junto com ela. Mas envolvia muita gente pra fazer. Foi uma banda enorme. A gente chamou trompete, sax, pra colocar as frases na sonoridade que a gente queria. Então era muita gente pra poder fazer. Era um espetáculo mesmo. Com a performance. O que era complicado, trabalhar com tanta gente. Aí que eu volto praquela coisa da produção. Que a gente não vive só com as idéias. É uma coisa que se eu pudesse resgatar de alguma forma eu faria, mas pensando numa logística, numa estrutura de produção mais tranquilas. Porque nossa, quando acabou o show a gente tava esgotado. Mas aconteceu e foi muito bacana. A gente tem esses registros. Com o teatro cheio, com as pessoas ali, vibrando, e com as músicas que eu comecei a jogar, com esse lado mais autoral. Foi bem marcante.
E a respeito dessa auto-produção. O que você acha desse papel pro músico? Que tem que compor, tem que produzir, tem que vender o próprio show, tem que fazer a produção executiva do show.
Vilma Ribeiro: Eu acho que em alguns momentos isso não é muito saudável, sabe? Porque eu acho que são coisas bem distintas. Você pensar, por exemplo numa estrutura de show. Você tem que pensar desde o repertório, até no lugar que vai acontecer, o equipamento que vai ter nesse lugar. Por exemplo, gravar um disco, como você falou tem a questão das gravadoras, mas aí tem a internet, essa questão do vídeo. A possibilidade de você jogar isso pro mundo, mas ao mesmo tempo de como isso chegar pra muita gente. E te dar algum resultado, porque você precisa sobreviver, né? E precisa movimentar as coisas. Então eu acho que a gente tá passando por um momento que é um ciclo. Como as coisas mudaram muito, a gente ainda tá entendendo esse processo todo. Esses dias mesmo tava falando com um amigo: “Cara, a gente não sabe por exemplo como disponibilizar de verdade mesmo a música em plataformas digitais”. Porque quando eu fui fazer isso com o meu disco, e fui tentar me informar nos órgãos que lidam com direito autoral, por exemplo, e eu não consegui chegar a entender. Como é que eu vou repassar pros compositores, ou pra quem gravou comigo?! E todo esse mecanismo do digital… da produção… da coisa toda. O artista tem que cuidar de tudo isso, ele faz produção, ele veicula o trabalho, porque ele quer que o trabalho aconteça. Até o momento em que algumas bandas, alguns projetos, sejam pinçados desse mar de gente fazendo coisa. Por uma empresa, ou por uma mídia forte, como uma TV, ou pela trilha de um filme, que vai abrir pra outras possibilidades. Mas hoje não tem mais aquela coisa daquele cara que é o “empresarião” que vai lá e que diz: “Você vem aqui… agora você vai lá no estúdio e ensaia”. É um produto, né? É entender isso como um produto. Que a gente a gente é um produto também. Porque a gente movimenta um mercado. A gente movimenta profissionais. A gente movimenta técnicos. E ao mesmo tempo dá vontade de só ser artista. De pegar o violão. As vezes a gente fica “Nossa, eu quero tocar, eu quero compor” mas você tá lá escrevendo projeto. É bem caótico na verdade. Porque de algum jeito, você quer que a coisa aconteça. Eu tenho amigos agora que até abriram um espaço cultural. Eram uma banda, e agora os caras tão com isso. Naquela coisa de “então vamo abrir um espaço pra tocar”…
Bem dessa… é tipo, faça você mesmo ao extremo, né?
Vilma Ribeiro: E tem demanda, né? Porque você vê as pessoas indo. Em espaços diferentes… casas… Que tem tem esse clima mais intimista. Projetos como Sofar. Porque tem gente, tem público. As pessoas querem. Mas você tem que proporcionar esse encontro. Da performance ao vivo com as pessoas. Isso não se perdeu.
Isso não tem “crise” que tire
Vilma Ribeiro: Ver ao vivo o artista que você gosta. Que você viu no computador. Que alguém te indicou. E você quer ir no show. E isso se movimenta até em conta de não se vender mais tanto disco. Mas ao mesmo tempo, voltam a vender vinil. Então é todo um outro resgate da cultura toda do “Disso aqui eu gosto, então faço questão de comprar”. Então eu sei que eu também to ajudando o artista comprando. Eu acho que é muita coisa e a gente vai se virando. Vai tentando entender o que é essa máquina pra não… não… ficar deprimido (risos) Não! Levanta a cabeça porque temo que fazer de algum jeito. Mas eu acho que existem ainda grandes instituições, as TVs, que produzem dessa forma realmente alguns artistas. Essa coisa de música na novela. Ou outros mercados, como o sertanejo, o funk… a gente tá como se fosse um “underground”. A gente tá na guerrilha.
E como que você começou esse esquema de curadoria na Casa Heitor?
Vilma Ribeiro: Depois da FAP, eu trabalhei como professora. Isso é muito um caminho de quem estuda nas áreas de arte em geral. Vira arte-educador. E como eu fiz música, trabalhei muito tempo como professora de música em colégios. Depois de muito trabalhar em colégio particular, eu fui pra outro extremo. Porque eu precisava entender como as coisas aconteciam em outra realidade da educação e da arte. E fui trabalhar num projeto, que é lá em Piraquara. É um centro educacional que as crianças no contra-turno tinham oficinas. E eu fui lá trabalhar com música. Fiz a regência de um coral infantil. Eles já tinham isso que tinha que ter um coral no projeto. E aqueles profissionais que iam trabalhar lá eram contratados pelo Sesi. Então eu entrei ali na área de educação. Trabalhei quase dois anos ali. Nesse meio tempo eu tava fazendo uma pós-graduação na área de produção da arte e gestão da cultura. Uma pós bem bacana que me abriu pra outras possibilidades. Ainda na arte, mas não como cantora, ou como professora. Enquanto isso a Casa Heitor inaugurou o espaço, no final de 2013. Então eu fui transferida. Já tava terminando essa pós. Então achei que já cumprido mais uma etapa. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar nesse espaço cultural que tinha recém inaugurado. Então eu só passei de uma área pra outra ali dentro do Sesi. Que foi muito bacana. As vezes você estuda, mas não aplica. E isso foi muito legal porque eu saí da pós e já fui aplicar. Não foi assim tão fácil, mas foi num espaço cultural que era ideal pra quem tá tendo esse tipo de estudo. E aí lá na Casa Heitor eu comecei a lidar especificamente com a programação de música. Acompanhei uma programação que já existia na casa, mas já no meu segundo semestre eu já comecei com algumas idéias. Eu já comecei com um projeto chamado vozes da cidade, que tinha a intenção de trazer pra Casa Heitor a canção, porque até então só tinha música instrumental rolando. A gente continuou com outros projetos que a gente tinha lá, mas a canção não era contemplada. Por estar nessa cena, por conviver com tanta gente, por ter passado por tanta coisa eu achei que tinha essa demanda da canção. É um lugar lindo, que eu tenho maior orgulho de trabalhar, mas que é pra propostas específicas. Não é um teatro. Então não tinha como colocar banda. Então a gente começou com essa coisa do encontro. Eu chamei o Theo Ruiz e a Estrela Leminski, porque eles tem uma produtora. E aí eles já vieram também pra fazer a contratação dos artistas. E o Voz começou assim. Com esse primeiro recorte de uma cena. Porque eu nunca digo que a gente trás a cena curitibana, porque tem muita coisa. A gente tem que falar com muito respeito sobre isso. Porque a música curitibana que está ali é um recorte. Que é um primeiro trabalho que a gente mostra ali, mas que existem espaços, desde o Tatara, o Hip Hop, a cena punk… Eu não posso dizer que a música curitibana acontece ali, mas é um recorte. É um começo. E com a proposta de trazer os artistas para trabalhar só a canção autoral. Hoje tem outros projetos lá. Tem o Acordes na Casa. Eu faço a gestão da casa, que ainda tem artes visuais, outras linguagens que acontecem ali, oficinas e tudo mais. E o Sesi música que é um projeto um pouco maior. Que acontecem no teatro grande. Que trazem bandas em encontros também. Trazendo essa coisa do Vozes de valorizar a canção local. Então por exemplo a gente fez o encontro do Regra 4 convidando o Gabriel o Pensador. O Jazz Cigano trazendo o Yamandu Costa. A gente vai ter o Lemoskine trazendo a Fernanda Takai. Tem bastante coisa, até o fim do ano, que vai ser bem bacana.
E essa galera que você falou, que passou pela Casa Heitor. Como você acha que tá essa auto-produção da galera?
Vilma Ribeiro: Eu acho que existe uma rede de trabalho. Eu vejo que tem pessoas que são artistas e produtores. Acho que existe uma troca. Por exemplo, o Bernardo Bravo, ele tem toda uma questão de produção. Ele acabou de gravar um disco com o Coió. Eu fui no lançamento no Teatro paiol. Cara, que discão. Mais pesado… muito legal. Diferente do projeto que ele tinha com piano por exemplo que era o Arlequim. Mas aí eu fiquei observando aquela cena. E de repente ele tá lá por trás. Ele faz produção. Tem a Estrela e o Theo que fazem ali comigo o Vozes. E você vê essa rotatividade, é como se fosse uma irmandade. O Fred Teixeira, que trabalha com a coisa do estúdio, aí ele foi lá no vozes quando tava lançando o disco dele. Aí eu falei “nossa, o menino canta. Que bonito”. Um trabalho todo delicado. A Juliana Cortes por exemplo que tem um trabalho lindo de cantora, mas que eu vejo que faz muita produção pra outras pessoas. E nisso ela cria uma rede também. E eu reparei muito nisso quando eu tava nessa parte de produção lá na Feira Internacional da Música do Sul. Que aconteceu à algumas semanas atrás. Numa troca de trabalhos autorais, de trabalhos musicais. Mas tendo a figura do produtor. Por mais que essa pessoa talvez até seja artista. Aí você fala “Eu também sou cantora” e o cara fala “Então você entende, né?!”. (Risos) Mas o pessoal trazendo discos com a parte visual muito bonita. Com um cuidado de identidade e de apresentação. Eu participei da rodada de negócios. Pensando na instituição, eu tava ali como o Sesi. Então eu recebi um trabalho de uma banda muito legal chamada Dingo Bells. Do Rio Grande do Sul. E não eram os músicos, era produtora representando o trabalho. Ao mesmo tempo ela já trouxe outros trabalhos também. Então é uma troca que eu acho que existe. Ao mesmo tempo eu falei com o Ian Ramil. Ele mesmo falando do trabalho dele. Então a gente vê essa necessidade. Tem o circuito Sesi que acontece no interior. Que talvez tenha esse estigma de “ih, você vai lá, os cara só escutam sertanejo”. Mas eles lotam os espaços do Sesi. Com bandas daqui. Porque é um trabalho bom, é um trabalho legal. Que não chega. Porque quando chega, ele vai ter.
O povo vai.
Vilma Ribeiro: Por que? Porque houve um produtor, houve um show, houve uma feira, houve um festival. Tem feiras super legais que acontecem em Caxias do Sul… Londrina. Troquei muita idéia com esse povo. Porque tem público. Tem gente querendo ver. Procurar o disco, e ir atrás. Só que você tem que movimentar, né? Me deu até uma angústia de ver tanta gente legal precisando de oportunidades, mas de ver que tão aí produzindo. E com vontade de fazer, de mostrar o seu material. Então foi animador. Pensando na produção, mas pensando como cantora assim também, né? Como é importante ter essas oportunidades. Alguém tem que fazer. A gente sabe que certas instituições tinham que fazer e não fazem também. Porque tem que incentivar, tem que fomentar, tem que dar ajuda pra esse povo, entendeu? Tem que entender que eles tem que estar num ambiente legal de trabalho. Que eles tem que ser valorizados. É uma angustia, mas é uma coisa que ao mesmo tempo você vê que tem demanda.
Quais artistas você gostou mais de conhecer?
Vilma Ribeiro: Olha, no ano passado, eu como cantora tive uma oportunidade muito legal. Que foi meio inesperada. Que foi tocar no Teatro Guaíra. E o Gaíra é um santuário pros artistas de Curitiba. Que eu só tinha ido como público. E foi a abertura do show do Arnaldo Antunes. Foi uma pessoa que eu gostei muito de conhecer. Eu gostei muito de poder chegar próximo de um artista tão grande e ao mesmo tempo tão simples, sabe?! Acho que por isso que ele é assim diferente, sensível. Eu fiquei muito feliz de me aproximar. Generoso, sabe? Ao mesmo tempo ele é exótico, né? Ele tem aquela “voz grave” (imitando a voz do Arnaldo). Existem alguns artistas as vezes com quem você se decepciona, né? Mas as vezes também é uma situação que aconteceu. De um show que não deu certo, que teve problemas técnicos. Ou a pessoa não tá num momento bom pra te conhecer, né? Mas eu acho legal você ter acesso e poder chegar perto dessas pessoas que você admira tanto. Pra mim é bem legal. E o Sesi tem me proporcionado isso. Com esse trabalho nos bastidores. Lenine. Ele fez um show com a orquestra à base de cordas, lá no Sesi. Veio só ele, sem a banda. Acompanhada do povo daqui. Bem bonito. E ele agradecendo tudo. Vendo as musicas dele em outros arranjos. São pessoas muito especiais, nossas, aqui do Brasil. Que tão além. Mas ao mesmo tempo tão aqui. Eu gostei muito de chegar perto dessas pessoas.
E algum artista que você queira encontrar?
Vilma Ribeiro: Uau, que difícil (risos). É que tem muita gente que eu queria conhecer que já morreu. A Nina Simone. A Elis Regina. É muito difícil uma cantora brasileira que não tenha uma referência da Elis Regina. Mas tem um cara que, como cantor e voz, que é o Milton Nascimento. Que eu acho que é uma entidade. Tá gravado aqui, vai que acontece eu volto aqui pra contar.
Você escutou o disco novo da Elza? (Mulher do Fim do Mundo)
Vilma Ribeiro: Sim! Sim! Cara… Arrebatador! Nossa… e que legal que vem com uma sonoridade forte, e com uma galera mais nova com ela. E a voz dela é impressionante. A força. Não vi esse show dela. Já fui em outros shows da Elza. Mas eu não fui nesse show. Queria conferir ao vivo. É um disco muito forte. É uma porrada! (risos)
E agora? As próximas? Tão acontecendo?
Vilma Ribeiro: Não dá pra parar, né? Independente do trabalho autoral, que eu continuo, eu to lançando uma música agora, que é um presente, que quando eu conheci eu fiquei bastante emocionada. Uma música muito bonita, de uma amiga minha muito querida, que é a Bruna Buschle. Ela é baixista, mas é compositora também. E ela tá querendo cantar, e eu to incentivando. Ela tem uma coisa meio Chat baker (risos). E ela compôs essa música que se chama Calma. Ela me mostrou só no violão quando eu fui visitar ela no Rio de Janeiro. E marcou. Eu já fiquei com ela, já anotei os acordes. E fiquei tocando… tocando… tocando… não conseguia esquecer dela. E aí eu mostrei ela pra um amigo também que é produtor e compositor, que é o Rodrigo Lemos. Ele em o projeto dele que é o Lemoskine. Que você tem que conferir também. Agora ele gravou o Pangea (I Palace II).
O Pangea é muito bom… eu gosto muito…
Vilma Ribeiro: Ele é muito bom conjunto da obra, sabe? Ele é uma pessoa muito boa e ele tem uma voz muito bonita. Aí compõe, produz. O Lemoskine é demais. Aí mostrei pra ele. Ele falou “Puts, que música bonita” e produziu. Aí a gente gravou, tá terminando de mixar e vai lançar agora em julho. Com um vídeo. E vai entrar no repertório autoral do disco. Eu já to pensando nesse projeto de trabalhar com vários compositores daqui da cidade. E que vai se concretizar com imagem também. Vai ser um DVD. Mas nesse caminho, até chegar o momento dessa gravação, essas músicas já vão sendo incorporadas no repertório da banda.
Aí tem o Sweet Cabaré, que é o projeto que eu faço com a Lilian Nakahold, que é uma pianista maravilhosa daqui de Curitiba. Que é uma atmosfera dos cafés dos anos 20. Dos cabarés. Que pegas compositores como o George Gershwin e o Cole Porter, principalmente. Que é uma outra coisa que tá sendo legal de fazer. Aí com a Bruna também to resgatando o reggae. Que é um negócio que a gente vai começar a fazer. Que são músicas do Bob Marley, só que numa pegada jazz. Então é uma reviravolta. Com a Bruna e com o Luciano Madalozzo.
Porra, Vilma. Que demais, eim? Gostou?
Vilma Ribeiro: Po, adorei. Muito bom conversar, são coisas que… eu fico até um pouco emocionada porque dar uma passada assim nas coisas que você fez e que é tão legal, né? Eu tenho orgulho. Tenho orgulho do que fiz.
Leia mais entrevistas em NA-NU Entrevista